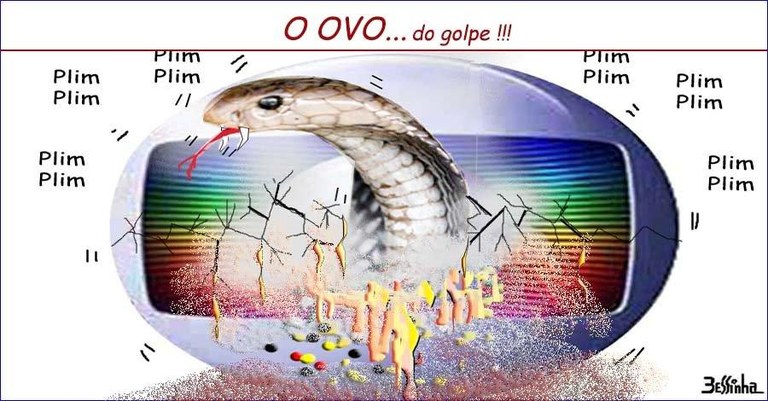|
| O número de abstenções, votos nulos e brancos têm crescido nos últimos anos - José Cruz / Agência Brasil |
por Arthur lassia, Daniela Arcanjo, Lucas Pinto e Matheus Ferreira
Como nas eleições municipais de 2016, alto número de "não votos" na escolha de governador-tampão do Amazonas reflete o desinteresse da população.
“Cada dia eu acredito menos na política. Eu fico com dor no coração,
acho que a gente tinha que acreditar. Mas eu já perdi as esperanças,
ultimamente nem programa de política eu assisto”. A fala de Maria Aparecida dos
Santos é a de muitos brasileiros. Ela tem 59 anos e diz ter desacreditado na
política brasileira ainda na adolescência. Decidiu, porém, anular seus votos há
apenas quatro eleições.
Negra e moradora de Bauru, no interior de São Paulo, a cozinheira diz
que nem mesmo as mulheres atualmente no congresso parecem representá-la, quando
questionada sobre a maioria masculina nos espaços de poder. “As mulheres que eu
acompanhei falaram que iam fazer muito e eu não vi nada”, critica. Segundo
Aparecida, sua família segue o mesmo pensamento.
O número de abstenções, votos nulos e brancos têm
crescido nos últimos anos. Do eleitorado brasileiro, 32,5% não foi votar,
preferiu o branco ou o nulo em 2016. São seis pontos percentuais a mais em
relação às eleições de 2012.
A manauara Larissa Almeida, de 20 anos,
endossa essa estatística. A jovem comenta que não foi acostumada pela família a
discutir sobre o assunto e se sente distante do debate político. “Não adianta
só votar ou não, é preciso entender todo um contexto. No meio de tanta crise
política, me senti perdida”, explica a estudante de Relações Públicas.
Ela anulou seu voto nas últimas duas oportunidades: em 2016 e neste ano,
durante a eleição para governador-tampão do estado de Amazonas.
A população do estado foi convocada às urnas no último mês de agosto,
após a cassação de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (Solidariedade),
eleitos em 2016. Em decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a chapa foi afastada pelo
crime de compra de votos, cometido durante a campanha de 2014.
Na eleição que escolheu seus substitutos, eleitores que deixaram de
escolher um candidato, optando por branco ou nulo, somados às abstenções,
ultrapassaram a marca de um milhão de votos. O número representa um aumento em
relação ao primeiro turno (849 mil) e é superior ao eleitorado de Amazonino
Mendes (PDT), candidato eleito com mais de 780 mil votos.
Fenômeno semelhante ocorreu nas últimas eleições de capitais
brasileiras. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) teve um
número de votos correspondentes à metade do número de abstenções, votos nulos e
brancos. Em São Paulo, o atual prefeito João Dória (PSDB) não foi escolhido
pela maioria absoluta do eleitorado. Dos quase 9 milhões de cidadãos que podem
votar, apenas cerca de 3 milhões escolheram o atual prefeito.
Na capital paulista, o número de votos brancos e nulos na última eleição
municipal só não superou o das duas primeiras eleições depois dos 21 anos de
ditadura militar. Os votos brancos e nulos aumentaram 22% em relação às últimas
eleições municipais.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, na penúltima vez
em que os paulistanos foram às urnas escolher vereadores e prefeito, 26,5% se abstiveram
ou votaram em branco ou nulo. Em 2016, esse número subiu para 32,5%, o que
representa um terço do eleitorado da cidade.
Crise na democracia?
Para Giovanni Alves, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, o voto
obrigatório brasileiro maquiou uma crise no sistema político que não é recente.
“Os índices de abstenções nos Estados Unidos, Japão e países da Europa mostram
que a maior parte da juventude já não acredita nesse sistema”.
O pesquisador reitera que o paradigma hoje não é em relação à democracia,
e sim em relação à política. “O problema está essencialmente no nosso sistema
político que não está conseguindo representar os interesses do povo”, afirma.
O desenvolvimento do neoliberalismo, impulsionado especialmente nos anos
de 1990 no Brasil, é apontado pelo especialista como grande motivador dessa
crise, que não foi solucionada por partidos mais alinhados à esquerda nos
cargos de presidência.
“A incapacidade dos governos Lula e Dilma de romper com esse sistema
político decorrem da própria dificuldade de se fazer uma reforma política no
país. O que a Operação Lava Jato está mostrando? Um deputado que está hoje no
congresso não representa os interesses de quem os elegeu, mas das grandes
empresas que investiram muito nele”.
Face do político brasileiro
Para compreender a questão da
autenticidade da representação política no Brasil, é necessário olhar também
para a composição do Congresso Nacional. Na edição de 2016 do levantamento do
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), intitulada “Os Cabeças do Congresso”, foram apurados os 100 parlamentares
mais influentes do Poder Legislativo Federal.
No levantamento, pode-se identificar que 45 desses políticos são
profissionais liberais. Destacam-se também 17 empresários, que incluem
produtores rurais ou donos de indústrias. Apenas seis parlamentares são
considerados representantes do operariado: quatro metalúrgicos e dois técnicos.
O que se nota é que o grupo não compõe apenas a “elite parlamentar”, a
maioria dele faz parte da classe rica do país. Entre as pautas mais atuais do
Congresso, muitas são do interesse do empresariado: as reformas trabalhista,
tributária e da previdência, propostas de incentivos fiscais e de crédito e a
regulamentação da terceirização.
Nos quesitos de gênero e etnia, o deputado brasileiro tem um perfil: em
sua maioria, é homem e é branco. Conforme análise de dados oficiais da Câmara
dos Deputados, 458 dos deputados federais são homens, enquanto apenas 55 são
mulheres, número que corresponde a 10,72% dos 513 parlamentares que compõem a
Câmara.
Na eleição de 2014, foi identificado que 410 dos deputados eleitos se
declaram brancos, enquanto 81 e 22 se declaram, respectivamente, pardos e
pretos, equivalente a apenas 20,08% do total. De acordo com o Censo Demográfico
de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na questão
de gênero as mulheres representam 51% da população; no quesito étnico, os
pretos e pardos representam 50,7% do total de brasileiros.
Apesar da aparente disparidade entre os perfis da população brasileira e
seus representantes políticos, Glauco Peres da Silva, professor da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP)
acredita que a ideia de crise na representatividade política é algo a ser
discutido. Ele concorda que é necessário haver políticas públicas que abranjam
toda a população, mas não vê a falta de representatividade como fator limitante
dessa possibilidade.
Sobre esse contexto, ele faz algumas considerações: “A primeira é o
pressuposto de que os representantes precisem refletir as características da
população. Isto é um entendimento passível de discussão. O segundo é o fato de
que não há essa correspondência. Ela reflete a maneira como a elite política
brasileira foi formada historicamente”.
A resposta das reformas.
“O cidadão não confia mais nas urnas.
Não é à toa que o brasileiro vem deixando de acreditar na nossa democracia”,
diz o relatório de Vicente Cândido (PT-SP), deputado
responsável pelo parecer da reforma política.
É uma pauta que se arrasta desde a promulgação da Constituição de 88. Na
avaliação de Maria do Socorro Sousa Braga, coordenadora do Núcleo de Estudo dos
Partidos Políticos Latino-americanos da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), nunca foi possível fazer uma reforma substantiva nas regras políticas
apesar de ser tema recorrente em todas as legislaturas.
“É preciso uma autocrítica dos políticos, para que eles se mostrem
flexíveis ao que a população quer”, recomenda Braga. “Só assim vamos conseguir
trazer a população de volta à participação política”.
A pesquisadora afirma não ser possível esperar o fim dos problemas do
país por uma reforma política, que nasce das demandas dos políticos. A questão
tem origem em outro lugar. “Claro que há distorções no sistema político, mas o
que precisamos primeiro é estabelecer limites para os legisladores, criar
mecanismos de punição para o poder político e econômico”, explica.
Os "não-políticos"
Todo o contexto narrado criou um
ambiente que permitiu o surgimento de um grupo de políticos distanciados da
política tradicional. “Tenho 45 anos de experiência, sendo a maior parte deste
tempo como empreendedor e como gestor”, se apresentou o estreante João Dória,
do PSDB, em sua proposta de governo à prefeitura de São Paulo, durante as
eleições de 2016. Ele é um dos exemplos de candidatos lançados como outsiders, vindos
de fora de grupos hegemônicos da política tradicional.
Embora os “não-políticos” pareçam uma tendência, Josemar Machado de
Oliveira, professor e historiador, comenta que a oposição à categoria política
não é algo novo. “Há décadas candidatos se apresentam desta forma, questionando
os ‘políticos profissionais’ e dando a entender que são um poço de pureza e que
não estão fazendo política, vista por eles como algo ruim”, explica o docente
da Universidade Federal do Espírito Santo.
Suas propostas não são homogêneas. O
estreante Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos exaltando o protecionismo
econômico como solução ao desemprego. O presidente francês Emmanuel Macron, do partido “A República em
Marcha”, é aberto ao comércio externo e um dos principais líderes defensores da
União Europeia.
No Brasil, além de Dória, capitais como
Rio de Janeiro e Belo Horizonte elegeram candidatos com discurso “não político”
sendo eles, respectivamente, Marcelo Crivella (PRB) e Alexandre Kalil (PHS). O fenômeno chegou
em cidades do interior, com a vitória de Daniel Guerra (PRB) em Caxias do Sul,
no Rio Grande do Sul.
Entre as semelhanças estão a afinidade com o empresariado, propostas de
ampliação de Parcerias Público-Privadas (PPP), plano de carreira meritocrático
para os membros do governo e descentralização dos serviços públicos.
Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São
Paulo, acredita que a questão é complexa: as diferenças entre gestão privada e
pública não garantem o bom desempenho de alguém consagrado no mercado. “Na
empresa, lida-se com recursos certos, projetos definidos e demandas
controladas. Já na esfera pública, você enfrenta sempre escassez de recursos,
demandas crescentes e múltiplos conflitos, de difícil mediação”, compara o
docente.
Para Josemar Machado, a chance de perpetuação dessa estratégia política
é baixa. “Candidatos como Trump trabalham com a mistificação política e, como
uma de suas características, a fantasia do curto prazo”, opina o historiador.
Fonte: Carta Capital